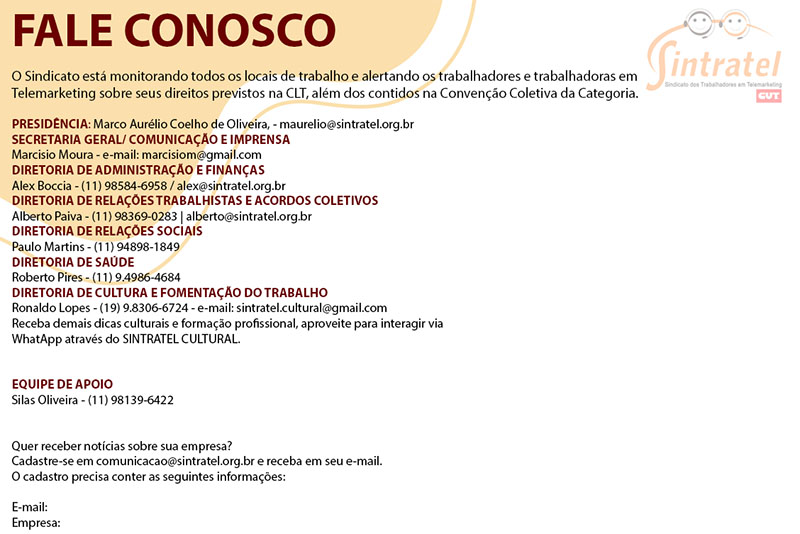Em Destacamento Blood ele fala dos negros que foram para a guerra do Vietnã. Uma estatística se soma aos fatos vexaminosos daquele sangrento episódio da nossa história: na época da guerra a população de negros nos EUA era de 12%, mas, dos jovens enviados para o Vietnã, mais de 30% eram negros. Este dado nos convida a refletir se para o governo americano, em especial para os governos que atravessaram os 20 anos daquela guerra, vidas negras importam.
Por Carolina Maria Ruy
No calor das manifestações em protesto ao assassinato de George Floyd, a Netflix lançou mundialmente, dia 12 de junho de 2020, o novo filme do cineasta Spike Lee, Destacamento Blood. Nascido em Atlanta, sul dos EUA, em 1957, em pleno Apartheid, e crescido no Brooklyn, NY, Spike Lee é militante, crítico e nunca perde a oportunidade de denunciar o racismo que o rodeia.
Em Destacamento Blood ele fala dos negros que foram para a guerra do Vietnã. Uma estatística se soma aos fatos vexaminosos daquele sangrento episódio da nossa história: na época da guerra a população de negros nos EUA era de 12%, mas, dos jovens enviados para o Vietnã, mais de 30% eram negros. Este dado nos convida a refletir se para o governo americano, em especial para os governos que atravessaram os 20 anos daquela guerra, vidas negras importam.
Assisti o filme em casa, de quarentena, no dia da estreia, com meu companheiro João, sindicalista, metalúrgico e militante desde a juventude. Conversamos bastante buscando entender a mensagem central de Spike Lee uma vez que, pelo que entendemos, ela aparece difusa e até com sinais trocados.
Pensei, então, que esta conversa pode se estender ao leitor e, quem sabe, ser útil para tentar extrair o melhor do filme. Vamos lá:
Carol – Eu achei que o filme não defende ninguém. Ainda não consegui formar uma opinião. O que você achou?
João – O filme retrata da participação dos negros, daqueles quatro negros na guerra do Vietnã. Não são pessoas engajadas, nem pró nem contra o capitalismo, nem a favor do comunismo. São pessoas que em sua juventude foram obrigados a se alistar e foram para a guerra. Só que ao longo do filme você vai observar que no meio deles tinha uma pessoa, que era o comandante, com uma visão mais politizada da história dos negros. Com isso, o filme mostra a própria formação deles. O diretor joga com isso para tentar falar àqueles que não são engajados. Acho que esse é o lado positivo do filme, as conversas entre eles são de gente popular, do povo americano, de negros que não são militantes. Eu senti que o filme é bem humanista.
Também achei interessante que ele faz menção a alguns filmes que contribuíram para uma visão equivocada sobre a guerra na mentalidade do cidadão americano médio. Eles citam o Rambo, tem também aqueles filmes do Chuck Norris, que são filmes que tentam “branquear” e dar um ar de heroísmo ao Exército americano. Foram filmes que fizeram sucesso, filmes de massa, que criaram uma narrativa sobre o porquê a juventude foi para a guerra. Entendo que há essa crítica no filme, a esse tipo de propaganda.
Carol – Mas qual é o sentido se os personagens não são engajados, se não há uma crítica clara à guerra.
João – Acho que o Spike Lee tenta falar às pessoas comuns. Inclusive um dos personagens votou e apoiou o Trump, estava com o bonezinho e tudo. A arte do filme para mim é isso: a gente não olhar como inimigo aquele que pensa diferente. Ao contrário, ver o outro como uma pessoa com quem você tem que discutir, tomar uma cerveja, conversar. O filme não é maniqueísta, nós contra eles, coisa que a esquerda as vezes cai, tanto a esquerda quanto a direita.
Carol – Por que você acha que ele fez questão de colocar como um personagem principal, um apoiador do Trump? Ele mostra no filme que ele se incomoda quando um menino chega no bar pra pedir dinheiro, ou quando um cara tenta vender um frango para ele no mercado flutuante. Justamente esse cara se incomoda com a pobreza e com aqueles que estão em uma situação de vítima.
João – Primeiro que ele vê isso como uma cobrança e não aceita. Uma cobrança pelo fato de os EUA terem feito a guerra. E ele fala que não tem nada a ver com isso, que lutou por direitos que ele não tem. Fala: “pô, ele nem conhece a minha família, o que é isso?”. Parece, pelo que entendi, que no fundo ele se sente ameaçado pela vitimização. É como um rancor de quem sempre foi marginalizado e que é endurecido pelas próprias dificuldades.
Carol – E o filme, como estávamos conversando, não defende o Vietnã. Não é pró regime vitorioso do Vietnã.
João – Não. Ele mostra a capital, antiga Saigon, atual Cidade de Ho Chi Minh, avançada, moderna, mas depois se enfronha para o interior agrícola do país, pobre. Aquela cena do mercado flutuante é degradante. Mas eu senti que tanto a situação do Vietnã e mesmo a questão da guerra não são centrais no filme. É mais sobre a história deles, como negros americanos que foram para a guerra, como eles foram colocados como bucha de canhão.
Carol – E tem aquela questão do Marvin Gaye…
João – Ah, é verdade, esse é outro detalhe importante. Quando a gente vê filmes críticos à guerra a gente ouve aquelas músicas politizadas, mas neste ele optou por essa trilha do Marvin Gaye porque, como eu li em um artigo da Folha, ele teve uma experiencia com esta guerra e a expressa naquele LP, What´s Going On. O Marvin Gaye, até então, era um cantor romântico. Fica em depressão, o irmão dele foi para a guerra e ele e a família passaram por uma fase difícil, com a mãe preocupada com o irmão e tal. Ele gravou o disco neste contexto, em 1971. Na música tema (What´s Going On) ele fala que a vida seria muito melhor com a volta do seu irmão, para alegrar sua mãe.
Carol – Que ele poderia trazer o amor novamente… “To bring some lovin’ here today” (Para trazer um pouco de amor aqui hoje).
João – Isso. Ele buscou justamente colocar o Marvin Gaye porque ele viveu essa transformação pessoal e em sua música…
Carol – O que você achou da participação daquela garota francesa fazendo um trabalho humanitário. Eu tenho um pouco a impressão de que alguns europeus tem uma coisa assim, de se sentir com uma dívida histórica e achar que precisam sair pelo mundo fazendo esse trabalho pelos pobres. Você acha que tem um pouco disso?
João – Isso é um fato. A própria Princesa Diana fazia campanhas e trabalhos desse tipo, de desmontar as minas. E o filme mostra um pouco isso. Ela fazendo sua parte para expelir um pouco os pecados da família. O filme mostra também essas reconciliações. Mas também não deixa de mostrar o outro francês que quer levar vantagem, que é um bandido e tem sua máfia junto com vietnamitas. Esse já é aquele homem branco que está na ponta do crime, que se beneficia da grande corrupção.

Angela Davis
Carol – Não foi interessante o fato de o filme ter sido lançado justamente no momento de uma explosão de manifestações antirracismo nos EUA por causa do assassinato do George Floyd? O que você diz sobre essa sincronia?
João – O filme está antenado com a realidade. Ele até mostrou o movimento Vidas Negras Importam (Black Lives Matter), mas não por causa das manifestações atuais, e sim por causa de uma luta anterior, que já vem se desenvolvendo lá há anos e anos e que mais recentemente assumiu esse perfil e esse mote. No fim, toda a saga do filme beneficia justamente esta organização. Ele ganha em importância por causa disso, por estar conectado à realidade. O filme dá sentido às manifestações. Ele levanta as raízes das lutas dos negros ao fazer referência à Martin Luther King, Cassius Clay, Malcon X, Angela Davis, e também por seu próprio enredo.
Carol – E essa coincidência, de um filme do Spike Lee ser lançado no contexto de um crime de racismo com ampla repercussão, já aconteceu antes…
João – Isso, com Faça a Coisa Certa, que foi lançado na época em que cinco jovens negros e latinos foram acusados de estuprar e matar uma mulher branca no Central Park, NY, e foram presos injustamente. Na época, 1989, o Donald Trump, que já era um empresário bilionário, fez campanha para que eles fossem condenados à pena de morte. Foi um processo cheio de falhas e marcado pelo racismo e, no fim, depois de anos de prisão, descobriu-se a inocência dos cinco rapazes. Essa história foi retratada na série Olhos que Condenam.
Carolina Maria Ruy é jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical