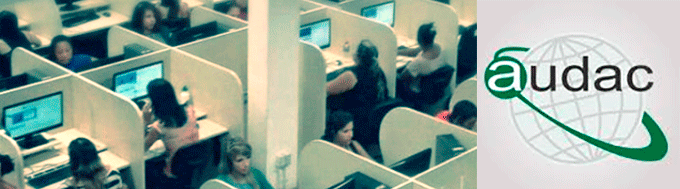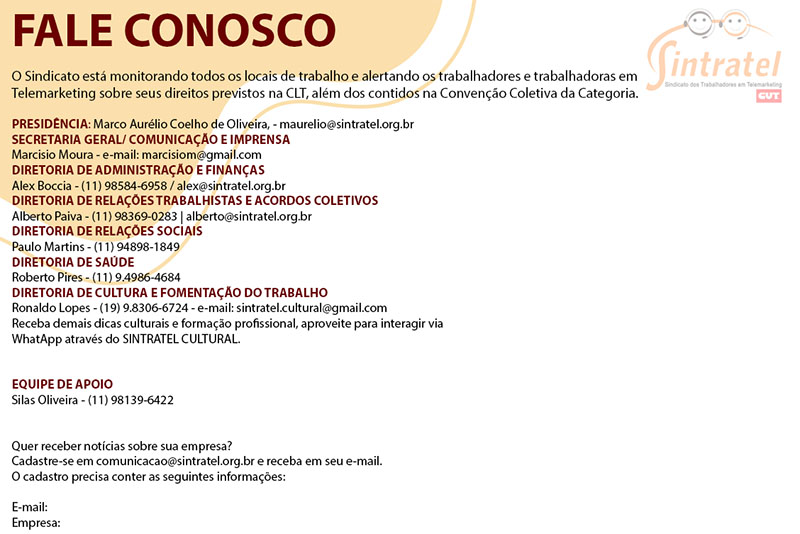Acredita-se que o conceito de democracia como forma de governo, ou seja, representação popular na administração política, nasceu na cidade de Atenas, na antiga Grécia. Com a tomada de poder por governos autoritários, o conceito entrou em evidente discussão em escolas e universidades, especialmente após as duas Grandes Guerras
Em entrevista ao projeto Ciclo22, a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, em São Paulo, analisa o que esperar para o futuro da democracia no País. Para ela, será preciso antes de tudo enfrentar questões ambientais e sociais, como o racismo estrutural, por exemplo.
A gente pode afirmar que com a aprovação da lei de cotas, em 2012, a sociedade preta teve um avanço no Brasil. Avanço este colocado em discussão o tempo inteiro com a eleição da extrema direita, em 2018. O que devemos, então, esperar para o futuro da população preta no Brasil? Mais avanços ou mais retrocessos?
Penso que a grande contradição da sociedade brasileira, como um todo, no tempo passado e presente, como eu chamo: “nosso presente-passado”, é a questão racial. O Brasil foi, como nós sabemos, o último país a abolir a escravidão mercantil dos 12 milhões de africanos e africanas, o que é muito perverso! Escravizados e escravizadas em todo o território nacional… Isso criou uma estrutura no País. Ou seja, não é uma questão que ficou morta no passado.
A Lei da Abolição foi muito conservadora, muito curta, e não envolveu reparação ou inclusão social. Isso não é uma questão anacrônica. O escritor Lima Barreto, por exemplo, falava disso. A professora Ângela Alonso mostra como existiam projetos que previam a integração da população negra já naquele tempo, mas nada disso foi feito pela Lei da Abolição. Com isso, nós tivemos uma data para o começo da abolição, em 13 de maio de 1888, mas ainda não temos data para o final dela. Trata-se, então, de um legado passado, mas não um legado “do” passado porque ele vem sendo recriado em bases muito amplas no presente.
A minha concepção é que nós não teremos independência se não enfrentarmos a questão racial. Me impressiona muito um dado que o historiador Felipe de Alencar e o dr. Alberto da Costa e Silva destacam: o primeiro país que negociamos não era uma nação, era uma colônia. Foi Angola o primeiro território com quem nós negociamos a independência, não Portugal, Estados Unidos ou Inglaterra.
Saber disso é importante para entendermos como a questão da escravidão é estrutural e estruturante no Brasil.
A mensagem passada pela Lei da Abolição foi que esse “Brasil independente” não tocaria no tema da mão de obra escrava. Mas nós sabemos, por outro lado, que logo após a proclamação da Independência o fluxo de mão de obra escravizada cresceu muito. Estamos falando aqui de uma independência que foi, sobretudo, uma independência colonial, metropolitana, europeia e masculina. Uma independência que contou com protagonismos de pessoas negras que não aparecem nos livros. No livro O Sequestro da Independência, que eu escrevi com Carlos Lima Junior e Lúcia Klück Stumpf, por exemplo, falamos sobre isso.
O desejo que eu tenho para 2023 é que a gente comemore, finalmente, a independência! Porque, na minha opinião, o que foi feito pelo governo Jair Bolsonaro não vale. O que acabou acontecendo nesses últimos quatro anos foi uma tentativa de backlash: fazer retroagir direitos conquistados pelo ativismo negro desde 1988, desde a Constituição Cidadã. Desde o processo que chamamos “Nova República”.
Paradoxalmente, esse retrocesso não foi do tamanho que o governo otimizava. Nós sabemos do impacto que o ativismo negro teve na agenda brasileira, em 2020, sobretudo, a partir da terrível morte assistida de Beto Freitas no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Essa agenda veio à tona e não tem como voltar. Nesse contexto, foi criada junto à visão negra por direitos uma palavra de ordem: “Não haverá democracia com exclusão racial”. Essa também era palavra de ordem do nascimento do Movimento Negro na década de 1970.
Para resumir: penso que o governo tentou, sim, roubar direitos civis, da população LGBTQI, das mulheres, dos ribeirinhos, dos indígenas e dos negros.
E por que essa questão é tão importante? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós podemos dizer que a população negra é minoria, pois corresponde de 13% a 17% da população. No Brasil, ao contrário, segundo os critérios do IBGE a população negra de pretos e pardos representa 56.4% da população geral, então não é uma minoria. Estamos falando, na verdade, de maiorias minorizadas na representação e é por isso que nós não teremos uma democracia enquanto formos tão exclusivistas. Me parece que esse é um dos grandes desafios, também, para a agenda do presidente Luiz Inácio.
Quais caminhos, então, a gente precisa tomar para alcançar essa Independência?
A Independência foi muito sequestrada na própria proclamação; foi muito sequestrada pelo governo Jair Bolsonaro, que tomou a data em 2021 para anunciar um futuro golpe e fez da celebração de 22 um palanque para a reeleição do seu governo. A festa cívica deu ensejo a uma festa militar, com estratégia política de reeleição que não deu certo e não tocou em temas fundamentais.
O Centenário da Independência, em 1922, foi motivo de muita comemoração e reflexão. Mas e em 2022? Quais são os nossos desafios? Quais são as questões que precisamos alcançar se quisermos pensar em independência como soberania e liberdade? Como não celebramos corretamente em 2022, proponho celebrarmos, de fato, em 2023. Eu acredito que a festa nacional tem sentido de comoção, de um lado, mas também de construção de uma comunidade que se imagina coletivamente. É o que diz Benedict Anderson [historiador estadunidense]: festas são momentos de imaginação da cidadania.
Lima Barreto, por exemplo, que acompanhou os festejos de 1922, dizia algo mais ou menos assim: “Os brasileiros foram contaminados pelo vírus da patriotada”. Naquela época, a gripe espanhola tinha acabado de ocorrer e provavelmente Lima se referia a isso. Nós não podemos ser contaminados apenas pelo vírus da patriotada, mas devemos ser, também, pelos festejos. Nós devemos tomar a festa como um alicerce, como momento oportuno para refletir sobre o que está por ser feito.
A questão racial é um ponto de partida da nossa reflexão, mas teremos também que refletir sobre a nossa desigualdade social. O Brasil é o 6° país mais desigual do mundo. Teremos que refletir sobre o futuro da Amazônia e do meio ambiente. Esse é um problema que nos interessa de perto e é preciso que seja uma questão central a partir de 2023. Vamos ter que refletir sobre o tema da segurança, por exemplo. Embora essa pauta existisse no governo Jair Bolsonaro, eu discordo da ação de armar uma população civil violenta.
Vamos ter que enfrentar nossa intolerância social, pois ela não é somente racial, é uma intolerância de sexo e gênero e é também religiosa, o que me preocupa muito. As religiões de matriz afro-brasileira, por exemplo, estão sendo muito perseguidas. São muitos desafios colocados na pauta de quem quer tomar o Bicentenário da Independência como festa vazia, de elevação, e não como agenda cidadã para enfrentarmos os próximos 100 anos.
Me pareceu uma visão otimista. Temos muitos desafios, mas é possível enfrentá-los. Mas como encaramos esses desafios todos? Fazemos debates através da mídia? Das escolas? Da Universidade?
Eu sempre digo que eu sou otimista no atacado e pessimista no varejo! Não acho que será fácil ou evidente. Penso que será um processo dolorido, difícil. O governo Jair Bolsonaro está entregando um Estado falido, com falta de verbas, sobretudo para educação, mas também para saúde e cultura. Será uma tarefa hercúlea! Por outro lado, trata-se de uma tarefa de cauda longa, não somente de um governo. Como fazer isso, então? Da maneira mais plural possível. Cada um pode fazer cidadania a partir da sua possibilidade. Cidadania não é tarefa que a gente delega. Muitas vezes temos esse problema: votamos e não cobramos. Todos nós devemos fazer nosso papel, sem esquecer das tarefas que cabem ao Estado, como o cuidado com a educação pública, universal e de qualidade, por exemplo.
Por outro lado, só teremos um país mais igualitário se a população brasileira tiver acesso à boa saúde. Temos o SUS [Sistema Único de Saúde], um projeto de cidadania pelo qual temos que lutar. Garantir, o que não é fácil, infraestrutura para a população brasileira. Para que as pessoas possam se educar e ser bons cidadãos, é preciso ter água, luz, esgoto, Nós sabemos que não é a realidade de toda a população. São problemas que vêm de uma longa história.
O papel, então, é do Estado, da mídia, da Universidade, da USP e dos cientistas. Nós cientistas temos um papel muito grande. A academia brasileira tem uma qualidade inegável! Me formei na escola pública, na universidade pública e dou aula em uma universidade pública, por isso acredito demais na ciência produzida nas universidades brasileiras.
Ministrando aulas na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, sei o quanto somos reconhecidos no exterior enquanto universidade brasileira e enquanto USP, em particular. Eu tenho um projeto depois da minha titularidade, mas sem abandonar o propósito da minha carreira acadêmica em oferecer mais à sociedade. Sair dos muros da Universidade, paradoxalmente, é estar plenamente na Universidade. Penso que é hora de enfrentarmos esses tantos desafios da nossa agenda nacional individual e coletivamente, pessoal e publicamente.
Nesses últimos quatro anos as universidades foram muito atacadas. Qual a sua perspectiva, em geral, para o futuro da ciência e das universidades no Brasil? Será possível um diálogo para que todos entendam a importância da ciência?
Entre antropologia e história há um debate sobre os conceitos “tempo breve” e “tempo longo”. Trata-se de um debate entre o que muda e o que é reiterado. A reflexão que eu venho fazendo sobre isso dialoga com o tempo passado. Ou seja, com o tempo que é alterado, o tempo da travessia.
O governo Jair Bolsonaro é autoritário e populista de extrema direita. Governos desse naipe são governos que gostam de reinar na produção do caos, da polaridade e na produção de fake news. Na minha opinião, as chamadas fake news são apenas mentiras. Não podem ser consideradas liberdade de expressão. São tão somente mentiras para esse projeto de governo, que nós experimentamos desde 1918 [fim da Primeira Grande Guerra]. Os grandes inimigos são aqueles que produzem conhecimento abalizados de jornalismo. O governo Jair Bolsonaro produziu uma guerra cultural na base da construção de teorias sem nenhuma informação. Ou seja, atacar as universidades não era uma coincidência, era um projeto de esvaziamento do pensamento crítico e uma tentativa de fortalecimento das bases que apenas o seguiram sem questionar, sem estabelecer qualquer dúvida.
O governo Lula e a figura dele não são desconhecidos da História. Nós sabemos que dentre os méritos todos, há também os problemas que deverão ser enfrentados. Um dos grandes méritos do governo Luiz Inácio foi a criação de universidades. Não à toa, Lula perguntava insistentemente durante o debate eleitoral quantas universidades Bolsonaro havia criado. Não por coincidência, Bolsonaro não tinha como responder, pois ele não o fez. Não era um projeto.
Tenho esperança de que teremos quatro anos de um governo muito identificado com a produção do saber científico de qualidade. Do futuro ninguém é dono, por isso historiadores detestam fazer história do presente, tanto mais história do futuro. É muito melhor analisar processo encerrado do que tentar dar conta de processo em aberto, mas no momento em que nós conversamos, quero crer, pautada na experiência do que foram os dois governos de Luiz Inácio, que a universidade estará novamente oferecendo à sociedade o que ela faz de melhor: produção científica com contraste de fontes, idoneidade e seriedade na produção de conhecimento.
Fonte Jornal da USP