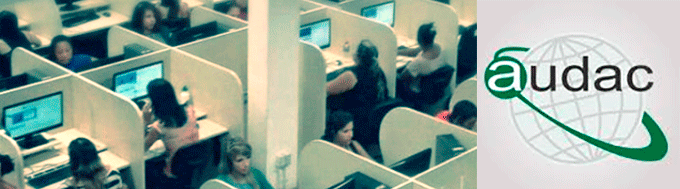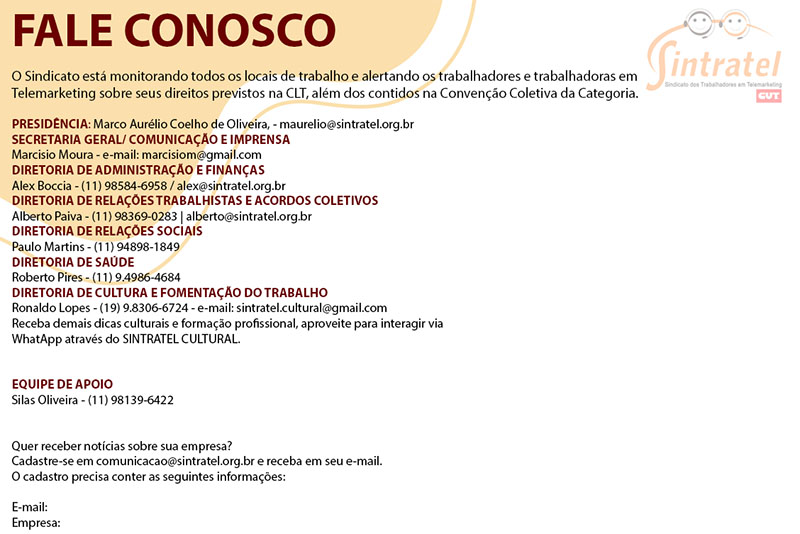Luna, 17, conta nos dedos até encher a mão o número de amigas próximas que já são mães. “Cinco. É muito”, reconhece. Ela está grávida de seis meses. Para Luna, que é negra e moradora do Capão Redondo, na periferia de São Paulo, engravidar na adolescência não é incomum, apesar de ela lamentar a gestação. “Nem saiu e já é ruim”, diz.
A probabilidade de uma mãe adolescente ser negra na cidade de São Paulo aumentou nos últimos anos, segundo análise do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), realizada com base em dados do SUS e da prefeitura.
A proporção de bebês nascidos de meninas negras, entre 15 e 19 anos, passou de 56%, em 2012, para 62% em 2017, último ano com dados disponíveis.
Apesar de o número absoluto estar em queda na capital, os casos estão cada vez mais concentrados na periferia.
Em 2009, os dez distritos com os piores índices da cidade tinham 25% do total de bebês nascidos de mães adolescentes —em 2017, essa proporção passou para 31%.
Para a coordenadora do Unicef em São Paulo, Adriana Alvarenga, os dados são resultado de uma “falta de investimento histórico na redução das desigualdades intramunicipais”. Ela diz que o fenômeno tem ocorrido com outros indicadores sociais, como homicídios de adolescentes.
“Vemos essa piora da desigualdade também em outras cidades. Isso precisa ser tratado de forma urgente e estratégica, porque, quanto mais acirradas as desigualdades, mais difícil é de reverter”.
A professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa Tania Lago ressalta que, enquanto o número de bebês nascidos de mães adolescentes brancas diminuiu consistentemente no período, quase 30%, para negras, houve até um aumento entre 2013 e 2015.
“As jovens brancas têm mais acesso a informação, anticoncepcionais e a formas de provocar o aborto”, afirma.
No bairro de Luna, o Capão Redondo, o número de bebês de adolescentes negras subiu 11% entre 2012 e 2017, chegando a 430. O nome da adolescente foi trocado para preservar sua identidade. Luna seria o nome do bebê, se fosse menina, e o que ela escolheu para ser chamada nesta reportagem. Seu filho vai se chamar Pietro Henrique.
Luna desconfiou que podia estar grávida quando a menstruação atrasou. “Não desceu para mim. Estava com suspeita”, conta ela, evitando certas palavras, por timidez.
A adolescente comprou um teste de farmácia, que deu positivo. “Mas eu não queria acreditar, porque teste de farmácia mente. Assim diz o povo, mas não mentiu nada.”
Luna adiou ao máximo a ida ao posto de saúde, onde recebeu a confirmação. “Fiquei pensando o que eu ia fazer da minha vida com filho atrás de mim”. A adolescente planejava fazer ensino técnico de enfermagem —“gosto de cuidar das pessoas e dos bichinhos— e arrumar um emprego, quando ficou grávida.
O pai da criança tem 19 anos e trabalha em uma lanchonete. Ela conta que o casal usava camisinha, mas “só de vez em quando”. O jovem a chamou para morar com ele, mas Luna preferiu ficar na sua casa. “Estar com a mãe é a melhor coisa”, diz a menina, que sorri e inclina a cabeça encabulada.
Sua mãe trabalhava como auxiliar de cozinha e ganhava R$ 1.200, mas foi demitida. Luna nasceu quando ela era adolescente, e a menina nunca conheceu o pai. A mãe de Luna sempre lhe dizia que não queria o mesmo para ela: “primeiro estuda, tem uma vida boa e só depooois tem filho”.
Luna tem sentimentos divergentes com a gravidez. “É legal e é ruim. A pior parte é que as pessoas te julgam.” Uma desconhecida falou para a menina na rua que ela deveria estudar “ao invés de ficar caçando filho”. “Como se eu tivesse procurando [engravidar]”, reclama Luna.
Essa culpabilização da mulher é comum, diz a socióloga Nicole Campos, gerente técnica da Plan International Brasil, ONG que trabalha com direitos sexuais e reprodutivos.
“Sempre associamos gravidez na adolescência à mãe. É ela que não tomou as precauções. Mas a mulher não faz o filho sozinha, então é preciso falar de paternidade na adolescência”, diz Campos.
Alvarenga, do Unicef, concorda. “Além disso, a negociação do uso do preservativo tem muito a ver com o poder masculino perante a menina”.
A vendedora Evelin Rosa, 20, também enfrentou o julgamento dos colegas e familiares quando engravidou aos 15 anos. “Eu ia para escola de barrigão, as pessoas apontavam: ‘que menina besta’”, lembra ela, que é negra e mora no Itaim Paulista, na zona leste.
Quando teve as primeiras relações sexuais, Evelin pediu à mãe seus documentos, para marcar uma consulta no ginecologista na unidade de saúde. A mãe sumiu com os papéis para que ela não fosse.
“Meus pais não eram religiosos, mas eram muito reservados. Eu não podia nem ver beijo na TV”, diz Evelin. Ela ganhou uma cartela de anticoncepcional da amiga, mas não sabia bem como tomar e acabou engravidando.
No caso de Luna, a mãe tentou levá-la ao ginecologista, só que a menina tinha vergonha.
A mãe marcava, e Luna não ia. Quando foi ao posto, era já para o pré-natal. E aconteceu o que ela temia: foi reconhecida por uma vizinha. “Ela contou que eu estava grávida para o Brasil inteiro”, diz Luna.
Segundo especialistas, essa situação é comum. “Algumas unidades até oferecem o serviço, mas as barreiras enfrentadas pelas meninas para obter métodos contraceptivos de forma gratuita são o tabu e a vergonha”, diz Campos.
O professor de ginecologia da Unicamp Luis Guillermo Bahamondes diz que é preciso oferecer um espaço acolhedor e com privacidade para receber os adolescentes.
“A moça dos Jardins pode ir ao médico privado, a da periferia não. E se ela vai ao centro de saúde, muitas vezes só tem consulta meses depois.”
Bahamondes defende que é necessário aumentar a oferta na rede pública de métodos de longa duração, mais eficientes, como DIU de cobre e de levonorgestrel e implantes.
Alvarenga, do Unicef, diz que as políticas públicas precisam tratar o tema da sexualidade nas escolas e com as famílias, com naturalidade.
Além do tabu, outro fator de risco para adolescentes, principalmente na periferia, é a falta de um projeto de vida que inclua perspectiva de estudo e carreira. Ao mesmo tempo, a gestação precoce agrava a situação, porque é comum a adolescente deixar a escola e ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho.
Para Evelin, a gravidez adiou os planos. “Parou a minha vida, de certa forma.” Ela queria fazer faculdade de química e ter um emprego bom para ajudar os pais e viajar. “Ainda tenho esses sonhos, mas hoje preciso ter o pé no chão”.
Fonte: Blog da Cidadania