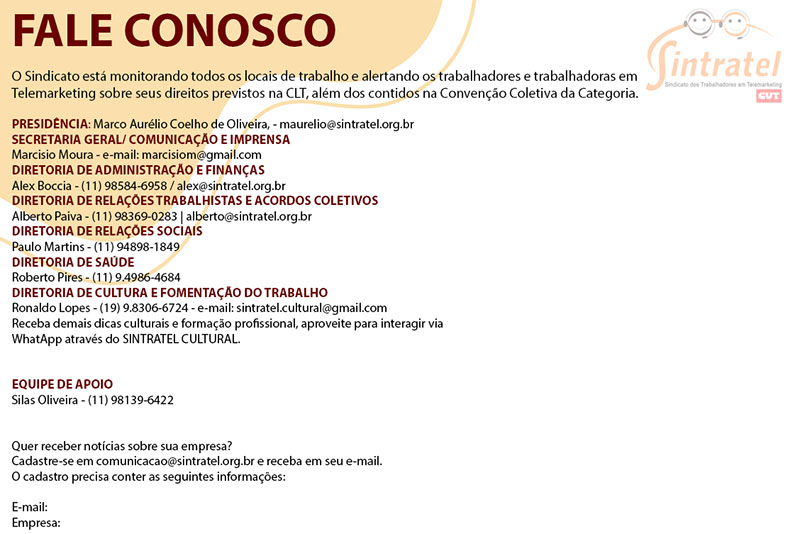Discriminação latente prejudica negros e pardos na escola, na política e no mercado de trabalho no Brasil
Mulheres brancas têm uma vantagem salarial de 14% em relação às negras de mesma idade, escolaridade e estado de residência no Brasil. Em 2019, isso significava que, em média, as trabalhadoras pretas e pardas recebiam R$ 475 a menos por mês.
Além de expressiva, a desigualdade de rendimentos feminina por cor da pele aumentou em relação a 2012, quando era de 11,5%, o equivalente a R$ 364 mensais (descontados a inflação do período).
No caso dos homens brasileiros, os brancos ganham 13% a mais que seus pares negros com características demográficas e educacionais semelhantes. Esse percentual, que representava R$ 624 a menos recebidos pelos pretos e pardos por mês em 2019, oscilou pouco nos últimos sete anos.
Segundo o pesquisador Guilherme Hirata, da consultoria IDados, que fez os cálculos para a Folha, é difícil destrinchar os percentuais que expressam a desvantagem salarial por cor da pele, a ponto de identificar o peso exato de cada fator que a gera e perpetua.
A necessidade de garantir renda em meio à crise econômica dos últimos anos pode, por exemplo, explicar parte do aumento recente da desigualdade entre mulheres negras e brancas no país: “Pode ser que as mulheres negras estejam mais propensas a aceitar redução salarial ou empregos que pagam menos”, diz ele.
Mas por que há mais mulheres negras que são mães sozinhas no Brasil? Por que os alunos negros têm notas menores na escola?
Por que pretos e pardos adultos ainda ganham menos do que os brancos e ocupam tão poucos cargos de chefia? E por que, embora sejam 55,8% da população, eles representam apenas 24,4% dos deputados federais do país?
Áreas das ciências sociais, como a sociologia, defendem que o racismo explica esses resultados —ou, pelo menos, parte deles— há algumas décadas.
Mais recentemente, estudos econômicos também passaram a oferecer evidências de que a discriminação está na raiz de processos que prejudicam os negros em várias esferas da vida no Brasil.
A primeira teoria sobre como trabalhadores igualmente eficientes podem ser tratados de forma distinta por causa de atributos como sua cor da pele ou seu sexo foi formulada na década de 1950 pelo americano Gary Becker.
O economista, vencedor do Nobel da área em 1992, notou que empregadores preconceituosos estariam dispostos a deixar de contratar um trabalhador com alguma característica que fosse alvo de sua discriminação, mesmo que isso implicasse a contratação de outro funcionário menos produtivo.
Mas Becker também dizia que a margem para esse tipo de atitude variava de acordo com a intensidade da concorrência em cada mercado.
“Discriminar é sempre custoso economicamente, mas, quando há menor competição, esse custo diminui e o empregador preconceituoso pode se dar ao luxo de discriminar mais”, diz o economista Rodrigo Soares, do Insper.
Quando a concorrência aumenta, a pressão por corte de custos se torna mais intensa, diminuindo as chances de sobrevivência dos empregadores que discriminam.
Rodrigo Soares, pesquisador do Insper - Adriano Vizoni/Folhapress
Um trabalho feito por Soares e Hirata confirma a previsão de Becker de que um aumento da competição tende a reduzir as diferenças salariais associadas apenas à cor da pele, comprovando ainda que a discriminação baseada nessa característica é significativa no Brasil.
“Nossos resultados, incidentalmente, também sugerem que a discriminação no mercado de trabalho devido ao preconceito de raça é um fenômeno predominante no Brasil”, destaca o estudo.
Os pesquisadores usaram a abrupta abertura comercial promovida pelo governo federal brasileiro na primeira metade dos anos 1990 como uma espécie de laboratório para testar a hipótese de Becker com foco na discrepância salarial entre negros e brancos.
Eles mostraram que a redução média de 10,3 pontos percentuais nas tarifas de importação ocorrida no período causou uma queda de 18% na diferença existente entre os salários de homens negros e brancos explicada pela sua cor de pele.
Para mensurar o hiato de rendimentos associado à raça, os economistas descontaram os efeitos de outras características que poderiam impactar os salários, como nível educacional, idade, área de domicílio –rural ou urbana– e região de residência.
Eles conseguiram capturar o efeito específico da abertura comercial sobre os salários porque, como diferentes partes do país se especializam em distintos ramos de atividade, nem todas foram afetadas igualmente pela redução de tarifas.
“A diferença salarial condicionada à raça caiu mais nas regiões mais afetadas pela abertura”, explica Hirata.
Os pesquisadores descartam que a queda documentada tenha sido causada por outros fatores pois ela ocorreu imediatamente após a abertura e ainda podia ser observada nos dados uma década mais tarde, no início dos anos 2000.
A relevância dos achados foi reconhecida pelo Journal of Development Economics, principal periódico internacional na área de desenvolvimento econômico, que anunciou há pouco que publicará o estudo, nascido como parte da tese de doutorado de Hirata.
Outro capítulo do trabalho acadêmico do economista captura, por outras vias, a ocorrência de discriminação por cor da pele no mercado de trabalho no Brasil.
Interessado no assunto desde a graduação, Hirata descobriu que o Inep, braço de pesquisa do Ministério da Educação, e a Fipe, instituição ligada à USP, haviam feito, em 2009, uma pesquisa para investigar a incidência de preconceito e atitudes discriminatórias por cor da pele, gênero e condições socioeconômicas nas escolas públicas.
Alunos, pais e funcionários entrevistados expressaram seu grau de concordância ou discordância com afirmações como “os brancos, em geral, são mais estudiosos que os negros”; “os brancos merecem trabalhos mais valorizados do que os negros”; “as negras têm mais jeito para domésticas do que as brancas” e “os brancos são mais evoluídos que os negros”.
Hirata usou as respostas relativas à cor da pele como matéria-prima para a construção de um indicador do nível de preconceito em diferentes partes do país. Depois, cruzou esse índice de discriminação com as estatísticas da desvantagem salarial explicada pela raça nos mesmos locais.
Ele concluiu que um maior nível de preconceito em uma região está associado a um aumento significativo na vantagem salarial de brancos em relação a negros na mesma.
Os economistas Claudio Ferraz e Tássia Cruz chegam a uma conclusão parecida em relação às chances de sucesso da população preta e parda na política.
Analisando dados das eleições municipais na Bahia em 2004, os pesquisadores mostraram que a probabilidade de vitória de candidatos pretos era 30% inferior à de brancos com nível educacional, partido, idade, sexo e gastos de campanha iguais.
A mesma comparação entre postulantes pardos e brancos indicou uma chance 17% menor de eleição do primeiro grupo em relação ao segundo.
Os economistas decidiram testar, então, a hipótese de que a desvantagem dos negros fosse explicada por eles serem menos conhecidos. Restringiram a amostra aos vereadores que estivessem concorrendo à reeleição, mas a cor da pele continuou contando contra as chances de pretos e pardos nesse recorte.
A pesquisa de Ferraz e Tássia concluiu, no entanto, que, em municípios com mais casamentos inter-raciais –o que costuma indicar menor discriminação– os candidatos negros tinham melhor desempenho.
“Poucas coisas além de racismo conseguem explicar os padrões encontrados nos dados”, escreveu Ferraz, que é professor da Vancouver School of Economics na Universidade British Columbia, e da PUC-Rio, em uma coluna recente do jornal Nexo Jornal.
Embora evite a palavra racismo, Hirata também se diz convencido de que a discriminação por preferência –que pressupõe alguma consciência por parte de quem discrimina– é disseminada no Brasil.
“Apesar das fortes hipóteses que construímos para chegar a esses números, parece que a etiqueta de Democracia Racial não cabe bem na sociedade brasileira”, diz um trecho da tese do economista.
A etiqueta citada por Hirata nasceu de teorias das ciências sociais brasileiras nas décadas de 1930 e 1940 após um período em que havia prevalecido no país um discurso de superioridade branca.
“A ideia de raça foi gradativamente dando lugar, nas ciências sociais, à ideia de cultura, e o ideal do branqueamento foi ultrapassado, em termos de projeto nacional, pela afirmação e valorização do “povo brasileiro”, escreve a socióloga Luciana Jaccoud no livro “As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição”, do Ipea.
A partir da ditadura militar, nos anos 1970, “a democracia racial passou de mito a dogma”, nas palavras de Luciana, levando ao desaparecimento temporário da discussão em relação ao tema. Após a redemocratização, o assunto reemergiu, mas “largamente diluído no debate sobre justiça social”, escreveu a socióloga.
Com isso, o hiato entre brancos e negros em aspectos como resultados educacionais e salariais passou a ser reconhecido nas pesquisas econômicas das últimas décadas, mas inserido no contexto mais amplo da desigualdade de renda brasileira, uma das mais elevadas do mundo.
Aos poucos, porém, novos estudos têm evidenciado a contribuição da discriminação para a disparidade de rendimentos no país.
Outro trabalho de Soares com os economistas Juliano Assunção (PUC-Rio) e Tomás Goulart (Novus Capital) revelou forte ligação entre a intensidade da escravidão do século 16 ao 19 com o nível atual de desigualdade de renda nos países.
Segundo a base de dados “Voyages – The Transatlantic Slave Trade Database”, o Brasil recebeu 4,8 milhões de escravos no período, o maior fluxo entre mais de 40 nações.
Os três economistas mostraram que, se a escravidão não tivesse ocorrido, em meados da década passada, o índice de Gini brasileiro seria 0,47 e não quase 0,6. Quanto mais alto for esse indicador, que varia de 0 a 1, maior a desigualdade de rendimentos.
O trabalho –publicado pelo Journal of Comparative Economics– não buscou explicar os mecanismos pelos quais o choque inicial causado pela escravidão persiste até hoje sob a forma de elevada iniquidade.
Mas os autores dizem que uma provável explicação passa pela transmissão do status socioeconômico de uma geração para a outra no Brasil.
Ricardo de Matos, 37, trabalha informalmente na alameda Barão de Paranapiacaba, centro de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress
Embora essa espécie de herança automática esteja caindo, na esteira do maior acesso à educação, ela permanece alta e é, particularmente, evidente no recorte por cor de pele.
O estudo “Revisitando a Mobilidade Intergeracional de Educação no Brasil” –resultado da colaboração entre cinco economistas– mostrou que, em 2014, a chance de um filho negro repetir o resultado educacional de um pai sem nenhuma escolaridade era de 23%. Entre brancos, essa probabilidade caía para 11%.
No extremo oposto, um filho branco tinha 74% de chance de conquistar um diploma universitário, caso seu pai tivesse ensino superior completo. Entre negros, esse percentual caía para 62%.
Há várias possíveis causas para essa persistência de resultados entre gerações, entre as quais as próprias armadilhas criadas pela pobreza, que podem levar crianças e adolescentes a abandonar a educação precocemente.
Nas últimas décadas, o Brasil progrediu na adoção de políticas que buscam atacar essas questões. Um dos exemplos é o Bolsa Família, programa de transferência de renda cujo pagamento é condicionado à permanência de crianças e jovens na escola.
“As políticas focadas em critérios socioeconômicos têm um efeito positivo grande para a população negra, que é também a mais pobre”, diz o sociólogo Luiz Augusto Campos, professor do Iesp-Uerj e editor-chefe da revista Dados.
Mas, segundo Campos, que também coordena o GEMAA (grupo de estudos multidisciplinares da ação afirmativa), essas medidas são insuficientes para combater os efeitos negativos da discriminação, especialmente por causa dos preconceitos velados.
“O avanço da pesquisa sobre o racismo é dificultado pelo fato de que a sociedade brasileira, ao contrário da norte-americana, ainda nega a discriminação”, afirma o sociólogo.
Nas últimas semanas, uma onda contra o racismo iniciada no Estados Unidos chacoalhou o mundo, após o assassinato de George Floyd, um negro americano sufocado pelo policial branco Derek Chauvin.
No Brasil, além de manifestações nas ruas, em meio à pandemia do coronavírus, o movimento levou ao lançamento do manifesto “Enquanto houver racismo não haverá democracia”.
Embora enxerguem o lado positivo dessas manifestações para o debate público, pesquisadores ressaltam que é preciso avançar em estudos que escancarem os mecanismos pelos quais a discriminação opera.
PROFESSORES REDUZEM NOTAS DE ALUNOS NEGROS, QUANDO NÃO OS CONHECEM BEM
Há indícios de que o preconceito às vezes ocorre porque, na falta de informação sobre uma pessoa, alguém faz uma inferência sobre ela com base em uma generalização estatística sobre o grupo ao qual ela pertence.
Foi o que revelou uma pesquisa brasileira ao mostrar que, ao assumir uma turma nova, professores pressupõem, de largada, que seus alunos negros terão pior desempenho do que os brancos.
O trabalho –dos economistas da USP Fernando Botelho e Ricardo Madeira e de Marcos Rangel, da Duke University– mostra que o comportamento preconceituoso resulta em um frequente arredondamento para baixo nas notas dos estudantes pretos e pardos.
Para chegar a essa conclusão, eles compararam as avaliações de rotina de matemática feitas pelos professores da rede pública estadual de São Paulo com os resultados dos mesmos alunos na mesma disciplina em um exame anual aplicado pelo governo.
Os dados mostram que alunos negros com desempenho idêntico ao de seus pares brancos na prova estadual –corrigida por computadores– recebiam notas mais baixas nas avaliações de seus professores.
O comportamento sistemático resultava em uma chance 4% maior de reprovação no fim do ano entre os estudantes pretos e pardos.
Usuários no transporte público na região do Jardim Solange, na zona sul de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress
Para garantir que a postura mais rígida dos docentes em relação aos alunos negros não fosse explicada por questões disciplinares, os economistas construíram um indicador baseado em dados como frequência escolar e percepção dos pais em relação ao comportamento dos filhos. O possível impacto negativo da disciplina sobre as notas foi, então, descontado dos resultados.
Embora tenha revelado que os professores discriminam contra os alunos negros, a pesquisa também mostra que esse comportamento diminui à medida em que convivência entre eles se aprofunda, chegando a desaparecer com o tempo.
“Essa conclusão é importante porque indica que o comportamento dos professores não condiz com a chamada discriminação por preferência”, diz Madeira.
Ele explica que, se os docentes agissem por racismo, não ajustariam sua postura conforme têm mais contato com os alunos negros.
Para Madeira, a atitude dos professores está mais próxima da chamada discriminação estatística. Como os alunos negros têm desempenho pior do que a média, os professores parecem assumir, inicialmente, que qualquer estudante preto ou pardo é menos proficiente do que seus pares brancos.
Madeira destaca que esse diagnóstico é crucial para a escolha de políticas públicas que busquem corrigir o problema.
“Nesse caso, a solução parece passar por formação docente que explicite a questão e leve os futuros professores a conviverem com os alunos de comunidades mais pobres”, diz o economista.
Outra medida importante, segundo ele, é a redução da rotatividade nas escolas que é muito elevada na rede pública brasileira.
A pesquisa de Madeira, Botelho e Rangel –publicada pelo American Economic Journal: Applied Economics– é citado como uma referência crucial pelos economistas que pesquisam desigualdade no Brasil.
“Quando vi um dos autores apresentando os resultados, fiquei chocado. Teve um efeito muito grande no meu entendimento de quão profunda e arraigada é a discriminação no Brasil”, diz Soares, do Insper.
ECONOMISTAS SÃO CRITICADOS POR IGNORAR RACISMO ESTRUTURAL E INSTITUCIONAL
Mas há consenso entre os pesquisadores de que são necessários novos estudos sobre os mecanismos pelos quais o racismo se entranha nas sociedades.
“Uma crítica que tem surgido, bem colocada pelos sociólogos, é que economistas olham pouco para a discriminação ou o racismo estrutural e institucional”, diz Ferraz.
Manoel Galdino, diretor-executivo da Transparência Brasil, ressalta que os economistas precisam ir além de categorizar o preconceito racial como resultado de uma atitude consciente ou de uma generalização estatística por parte de quem discrimina.
“O fato de que a economia tem estudado esse tema é um avanço enorme. Há dez anos, não se pesquisava quase nada sobre discriminação no Brasil”, diz Galdino, que é economista e cientista político.
“Mas precisamos progredir na compreensão dos mecanismos que institucionalizam a discriminação e a tornam estrutural”, afirma ele.
Os sociólogos da Universidade Harvard Mario Small e Devah Pager (morta em 2018) enumeram em um artigo recém-publicado pelo Journal of Economic Perspectives formas de discriminação que se tornaram arraigadas, mas podem ser imperceptíveis para a sociedade.
Empresas costumam pedir, por exemplo, que candidatos a certas vagas apresentem referências de outros profissionais.
O problema é que, como as redes de contatos das pessoas são bastante homogêneas do ponto de vista racial e os brancos ocupam mais postos de destaque, essa regra institucionaliza uma prática que prejudica os negros, mesmo que os empregadores não sejam preconceituosos.
“Como a discriminação pode ser causada por regras organizacionais ou por pessoas seguindo a lei, ela pode não resultar de preconceito pessoal, de palpites estatísticos baseados em características de grupos ou de racismo implícito”, escrevem Small e Pager.
Small e Pager recomendam que economistas considerem questões como essa em seus estudos futuros.
“Sem dúvidas, há muito o que se avançar nas pesquisas. Mas, como sociedade, já temos evidências de que a discriminação é uma questão estrutural e não uma percepção”, diz Tatiana Dias Silva, pesquisadora do Ipea.
Especializada em políticas públicas, Tatiana destaca que o país avançou em medidas para reduzir a desigualdade e a discriminação racial. Ela cita como exemplos a adoção de cotas para o acesso de minorias a universidade públicas e a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas.
Tatiana Dias, pesquisadora do Ipea - Pedro Ladeira/Folhapress
Mas o país ainda precisa avançar muito mais, diz a especialista. Um passo necessário, segundo ela, é a inclusão de recortes raciais como critério de avaliação da eficácia de políticas.
A especialista cita como exemplo o Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece metas a serem atingidas no país. Um dos objetivos é que 33% da população de 18 a 24 anos estejam cursando o ensino superior até 2024.
Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que, em 2018, a meta já havia sido atingida pela população branca. Naquele ano, a chamada taxa líquida de matrícula desses estudantes no ensino superior foi de 36%.
Mas entre os jovens negros, o percentual era a metade disso, apenas 18%. Além disso, houve progresso maior do indicador para os jovens brancos entre 2016 e 2018 do que para os pretos e pardos.
“O PNE é um exemplo de política que poderia ter tido recortes raciais em sua formulação”, diz a pesquisadora.
A adoção desses critérios tem a vantagem de forçar a realização de análises sobre os empecilhos enfrentados pelos grupos em situação de desvantagem.
Campos da UERJ diz sentir falta de mais apoio do setor privado brasileiro seja financiando pesquisas de campo sobre discriminação seja discutindo mais abertamente políticas inclusivas no mercado de trabalho.
“É muito impressionante o fato de que no Brasil a gente aceite que empresas e escolas privadas sejam totalmente brancas”.
Fonte: Folha de SP