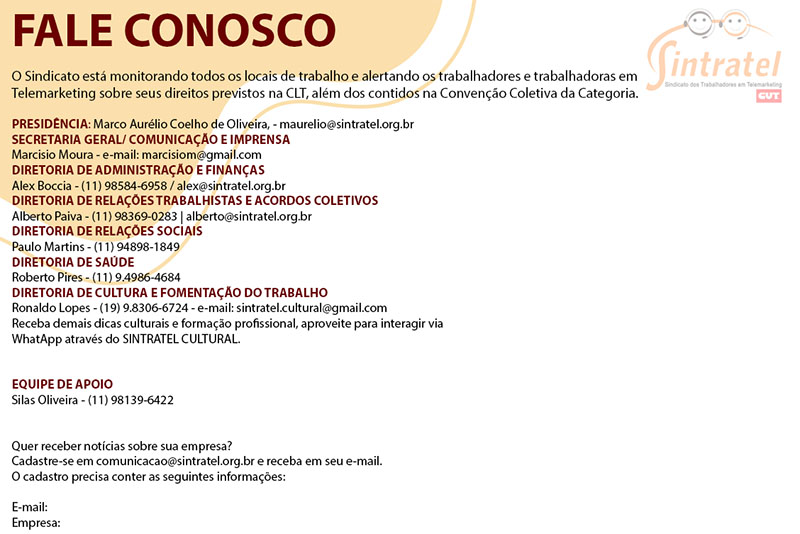O termo “política identitária” foi usado pela primeira vez no Manifesto do Coletivo Combahee River, de 1977. O Coletivo foi um grupo que existiu nos EUA até 1980 formado por mulheres negras lésbicas que não se sentiam representadas pelo movimento feminista tradicional, o qual julgavam hegemonicamente “branco”.
O manifesto, de 11 páginas, termina com a seguinte citação atribuída à escritora Robin Morgan:
“Não tenho a menor noção de qual papel revolucionário homens heterossexuais brancos poderiam cumprir, já que eles são a própria personificação do poder e dos interesses reacionários”.
Começo com esta citação para deixar claro o perfil sectário e determinista do movimento.
Pode até ser que a disputa por espaço tenha marginalizado aquele grupo de mulheres negras lésbicas e as empurrado para um agrupamento paralelo, o Coletivo Combahee River. Mas a opção por dividir mostrou-se, com o tempo, uma armadilha muito perigosa para a esquerda. A forma como evoluiu a prática de formar grupos segmentados ao invés de fortalecer organizações que enfrentam pautas mais abrangentes, como partidos e sindicatos, gerou uma confusão ideológica tão grande que me pergunto se enfrentar aquela briga não teria valido mais a pena. Ou, pior, se abrir um novo caminho, como uma terceira via, não foi uma forma não só de ficar de fora, mas de fazer o jogo do sistema contra o qual a esquerda deveria lutar: o liberalismo.
O Manifesto afirma que aquele ativismo conseguiu “certas ferramentas, resultantes de tokenismos nos âmbitos de educação e emprego”. Tokenismo se refere a uma inclusão simbólica e superficial de grupos minoritários, que visa muito mais garantir uma imagem inclusiva, do que realmente praticar a inclusão.
Se o Coletivo entendia que o tokenismo garantiu conquistas na educação e no mercado de trabalho, hoje me parece claro que ações afirmativas como cotas em escolas, universidades e nos locais de trabalho, não se consolidaram a partir da ação de grupos sectários, mas sim através de organizações como partidos e sindicatos. Está claro também que tais ações não foram superficiais e, se não resolveram a questão da desigualdade racial e de gênero, ao menos proporcionaram maior mobilidade social e fortaleceram esse importante nos países que as adotaram. São, desta forma, políticas sociais, não política identitária.
O tokenismo como forma de simular uma imagem inclusiva aconteceu nas empresas de outra maneira. Foi abraçado pela lógica do livre mercado e instrumentalizado como marketing de modo a desorganizar a luta política e social.
O manifesto afirma que, uma vez que as mulheres negras são as mais discriminadas na sociedade, se elas “fossem livres, isso significaria que todos os outros seriam livres”, já que tal liberdade “exigiria a destruição de todos os sistemas de opressão”. Mas não apenas o mundo não assimilou esta mensagem como o mercado a distorceu com grande cinismo.
O uso publicitário da pauta identitária é farto, e aí está o tokenismo, no bojo do liberalismo. Cada vez mais o marketing percebe que a diversidade agrega simpatia para grandes empresas, mesmo que isso não passe de fachada. E a ideia de que “se as mulheres negras fossem livres, isso significaria que todos os outros seriam livres” pode sintetizar no uso da imagem da mulher negra (ou de outros símbolos da opressão) todo o potencial empático que a empresa quer transmitir.
A revista Top Mind de outubro 2021, da Folha de São Paulo, deixa isso claro. O título da matéria de abertura entrega logo o caráter comercial com que o tema é tratado: “Diversidade que espelhe o Brasil real é positiva para os negócios”. Na matéria chamada Revolução das cores, do jornalista Fernando Sacco, a pesquisadora do grupo Consumoteca afirma que “Alinhar-se a causas sustentáveis, definindo propósitos, é a chave para mostrar relevância, sobretudo para as gerações mais novas”.
É até interessante e bonito ver a tal da diversidade tomar conta. Mas a aparente inclusão que o mercado exibe se encerra na intenção do capitalismo em abrir novos mercados, não apontando para a superação de um sistema de geração de pobreza e desigualdade. Aí está a armadilha identitária.
Se na publicidade a diversidade faz bonito, exaltando a um suposto Brasil real, para o cidadão comum a realidade é bem menos atraente. Desde a publicação do Manifesto do Coletivo Combahee River, a miséria, o desemprego e, consequentemente, a violência, aumentou no mundo capitalista. E os que mais sofrem são os mais vulneráveis: mulheres, negros, homossexuais e transsexuais.
No artigo “Um acordo melhor para os trabalhadores do mundo”, o professor de economia política internacional na Universidade de Harvard, Dani Rodrik, afirma que nas últimas quatro décadas “em economias avançadas, os ganhos para aqueles com menos educação frequentemente estagnaram, apesar dos ganhos da produtividade geral do trabalho. Desde 1979, por exemplo, a compensação dos trabalhadores da produção nos EUA cresceu menos de um terço do que a taxa de crescimento da produtividade. A insegurança do mercado de trabalho e a desigualdade aumentaram, e muitas comunidades foram deixadas para trás, quando as fábricas fecharam e os empregos migraram para outro lugar”.
O identitarismo cresceu neste contexto como uma pretensa ação política baseada em traços de identidade. Cresceu atrelado ao dogma do individualismo, ao aprofundamento da precarização e ao crescente ataque aos partidos e sindicatos que marcaram a ascensão do neoliberalismo nas décadas de 1980 e 90.
A crítica à pauta identitária é, desta forma, uma crítica à despolitização e à alienação dentro do movimento social. Isso porque a concepção social a partir de singularidades é o avesso da ideia organização. Ela desorganiza a política e atende a interesses privados.
De nenhuma forma a crítica à pauta identitária deve se confundir com a reafirmação de preconceitos e discriminações de raça, gênero, classe etc. Deve, ao contrário, fornecer massa crítica para a convergência de reivindicações e lutas em ações amplas.
Ao afirmar que não tinham noção do papel revolucionário de homens brancos as ativistas do Combahee River mostraram que não compreendem a importância de grandes líderes como Vladimir Lenin, Fidel Castro, Karl Marx, Friedrich Engels, Bertolt Brecht, Vladimir Maiakvoski, Antonio Gramsci, Luíz Carlos Prestes, João Amazonas e tantos revolucionários que junto com outros homens, mulheres, negros e brancos contribuíram para que o mundo fosse menos injusto.
Carolina Maria Ruy é jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical